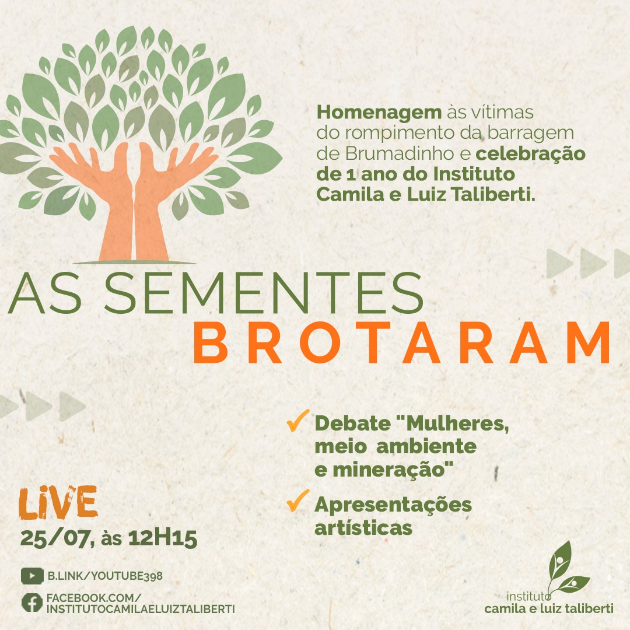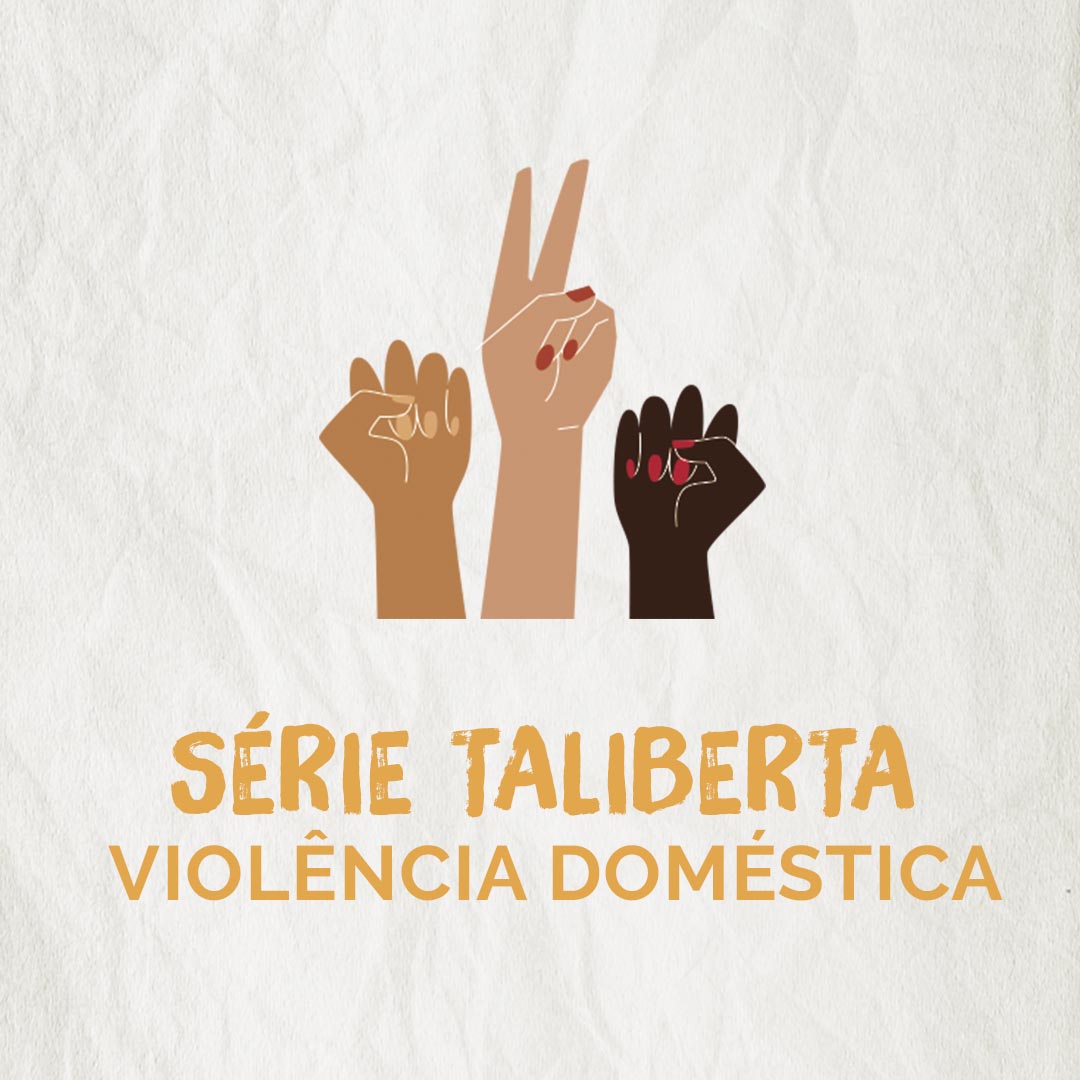A mineração ocupa uma posição de destaque na economia brasileira, sendo considerada um setor estratégico para o país. Responsável por uma parte significativa do Produto Interno Bruto (PIB) e das exportações, a atividade mineradora é frequentemente tratada como um motor de desenvolvimento e geração de empregos. No entanto, por trás dessa visão está uma realidade marcada por tragédias ambientais e sociais cujos efeitos perduram por gerações.
O paradoxo é claro: enquanto a mineração gera riquezas concentradas em pequenos grupos (muitos deles estrangeiros), ela causa danos ambientais e prejudica a vida de milhões de pessoas. Rios poluídos, cidades alagadas, comunidades deslocadas e ecossistemas prejudicados são algumas das consequências de um modelo extrativista que ainda predomina no Brasil.
A exploração intensiva dos recursos naturais, sem considerar os limites ambientais e os direitos das populações afetadas, perpetua um ciclo que coloca o lucro acima da vida e do bem-estar de muitas pessoas.
Este artigo tem como objetivo apresentar um histórico crítico das principais tragédias da mineração no Brasil. Por meio de uma análise das catástrofes que marcaram a história recente do país, refletiremos sobre os padrões de negligência, impunidade e injustiça ambiental que permeiam o setor.
Ao destacar os impactos humanos e ecológicos, buscaremos entender por que as mineradoras continuam a ser tratadas com condescendência, mesmo diante de tragédias previsíveis e evitáveis.
Mineração no Brasil: do ouro colonial ao extrativismo moderno
A história da mineração no Brasil é também a história da espoliação de seus recursos naturais. Desde o século XVII, com o ciclo do ouro nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, a exploração mineral tem sido marcada pela lógica da exaustão e da desigualdade.
A descoberta de ouro impulsionou o crescimento das capitanias mineradoras e atraiu a atenção da Coroa portuguesa, que extraiu grandes quantidades de riqueza sem qualquer preocupação com os impactos sociais e ambientais sobre o território e os povos que o habitavam.
A mineração de ouro no Brasil foi sustentada pela escravidão africana, que forneceu a mão de obra barata e forçada para escavar o ouro nas minas. Milhões de africanos foram trazidos para o país, submetidos a condições desumanas, trabalhando em regimes de extrema exploração para garantir o lucro da Coroa portuguesa e, mais tarde, dos proprietários das minas.
Durante o século XIX, a mineração de ferro começou a ganhar importância, consolidando Minas Gerais como o centro da indústria mineral brasileira. No século XX, com a criação da Companhia Vale do Rio Doce (hoje Vale S.A.), o país iniciou um processo de expansão do setor minerador baseado na exportação em larga escala de commodities minerais, em especial ferro e manganês.
A intensificação dessa lógica exportadora resultou na criação de uma infraestrutura voltada exclusivamente para atender aos mercados internacionais, desprezando as necessidades
internas ao segundo plano.
Nas décadas mais recentes, a exploração da bauxita (matéria-prima do alumínio), sobretudo na região amazônica, acentuou o padrão de mineração predatória. Grandes projetos, como o da Hydro Alunorte em Barcarena (PA), evidenciam o descompromisso ambiental e social das empresas, que operam com apoio de políticas públicas voltadas à atração de capital estrangeiro, à desregulamentação ambiental e à flexibilização de direitos territoriais.
Esse modelo se sustenta na transferência sistemática de recursos naturais para fora do país e na permanência de passivos ambientais e sociais nas comunidades afetadas.
Como destaca o estudo apresentado no Encontro da ANPEC 2024, a mineração no Brasil contribui muito pouco para o desenvolvimento das regiões onde atua. Apesar da geração de receita e empregos pontuais, os índices de desenvolvimento humano (IDH), saúde e educação nos municípios mineradores estão entre os mais baixos do país.
Isso reforça a crítica de que a mineração gera riqueza – mas não para as populações locais. Ela amplia desigualdades, concentra renda e, frequentemente, viola direitos humanos em nome de um crescimento que não se sustenta no longo prazo.
A concentração fundiária, o uso intensivo de recursos naturais e o racismo ambiental.
No Brasil, a mineração está profundamente entrelaçada com a concentração fundiária e o uso intensivo de recursos naturais, que muitas vezes são explorados sem qualquer consideração pelos impactos sociais e ambientais.
O modelo de desenvolvimento baseado no extrativismo mineral não só privilegia grandes corporações, mas também perpetua uma estrutura de desigualdade histórica. As terras mais ricas em recursos naturais geralmente pertencem a poucos, enquanto os povos que habitam essas terras – muitas vezes em terras públicas, como terras indígenas, territórios quilombolas e outras áreas de proteção ambiental – enfrentam deslocamentos forçados, destruição de seus meios de subsistência e violação de seus direitos.
Esse processo se dá dentro do contexto do racismo ambiental, um conceito que descreve como as populações marginalizadas, especialmente aquelas de origem negra e indígena, são desproporcionalmente afetadas por projetos de exploração mineral. Essas comunidades, que dependem diretamente da terra para sua sobrevivência, enfrentam a degradação ambiental, a poluição e a falta de acesso a recursos básicos como água potável e alimento.
O racismo ambiental é uma forma de violência estrutural, onde as políticas públicas e as decisões empresariais favorecem o avanço das atividades mineradoras sobre os territórios dessas populações, sem qualquer consulta ou consentimento.
No caso das comunidades indígenas, a mineração no Brasil frequentemente avança sobre suas terras sem o devido reconhecimento legal, com a desculpa de que a atividade econômica é mais importante do que a preservação dos seus territórios e tradições.
O impacto dessa prática vai além da perda de territórios: significa a destruição de uma cultura, uma história e uma relação ancestral com a terra. O exemplo mais claro desse fenômeno é a pressão constante para abrir terras indígenas à exploração mineral, uma prática que tem se intensificado com os recentes projetos de lei que tentam flexibilizar a proteção ambiental e os direitos territoriais dessas populações.
Legislação frágil e ausência de fiscalização eficaz
A falta de fiscalização eficaz é um dos principais fatores que contribuem para a reincidência de tragédias ambientais e para o contínuo descumprimento das normas ambientais.
A ausência de estrutura adequada nos órgãos responsáveis pela fiscalização, como o Ibama e a Agência Nacional de Mineração (ANM), tem resultado em uma ausência de controle sobre as atividades de mineração, especialmente em áreas sensíveis, como terras indígenas e unidades de conservação.
Como destaca o Tribunal de Contas da União (TCU), o Brasil pode perder até R$20 bilhões em royalties da mineração por não realizar uma fiscalização adequada, o que representa não apenas uma perda econômica, mas também a precarização do meio ambiente e a violação de direitos dos povos afetados pela mineração.
Além disso, recentes mudanças legislativas e a pressão de grandes corporações mineradoras têm enfraquecido ainda mais a regulamentação do setor. Projetos de lei que buscam flexibilizar o licenciamento ambiental, permitir a mineração em terras indígenas e reduzir a obrigatoriedade de consulta às comunidades afetadas são exemplos de como o Estado, em diversas esferas, tem se mostrado conivente com o avanço de atividades que desrespeitam os direitos humanos e ambientais.
As deficiências na fiscalização somadas à fragilidade da legislação criam um ambiente em que as mineradoras operam com relativa impunidade, muitas vezes sem a necessidade de se responsabilizar pelos impactos negativos que causam.
O rastro de impunidade das mineradoras no Brasil reflete um padrão de negligência institucional. Quando o setor é confrontado com crimes ambientais e sociais, a resposta das autoridades é frequentemente tardia e insuficiente, o que só reforça a sensação de que os interesses econômicos prevalecem sobre a proteção das pessoas e do meio ambiente.
Tragédias com a mineração: um histórico ignorado
São João Del Rei (1750)
O desastre minerário ocorreu entre 1750 e 1808, sendo considerado um dos maiores da época, com 211 vidas perdidas. Este incidente aconteceu durante o ciclo do ouro, quando a mineração era intensamente praticada no Brasil colonial.
A tragédia ocorreu em uma mina da região de São João del Rei, no estado de Minas Gerais. 200 escravizados e 11 feitores perderam a vida devido ao colapso de uma mina. O colapso foi causado por falhas estruturais nas galerias subterrâneas da mina, resultado da falta de medidas de segurança e da infraestrutura precária típica da mineração no período. A exploração de ouro no Brasil colonial foi intensamente dependente do trabalho escravo, e muitos desses trabalhadores eram forçados a enfrentar condições extremamente perigosas sem qualquer tipo de assistência ou proteção.
Esse desastre foi significativo, pois evidenciou a exploração desmedida da mão de obra escravizada e a negligência quanto à segurança nas minas. Além de expor as condições desumanas impostas aos escravizados, também reflete a despreocupação com a vida humana em prol da maximização do lucro no setor mineral.
Rio Verde (2001) – Mineradora Rio Verde
O desastre ocorrido em 2001, na cidade de Rio Verde, em Minas Gerais, é um exemplo claro das falhas na gestão de rejeitos e na segurança das barragens. A mineradora Rio Verde causou o rompimento de uma barragem, resultando no despejo de grandes volumes de resíduos minerais.
O rompimento da barragem causou sérios danos ambientais e afetou o abastecimento de água de várias cidades da região. A lama tóxica contaminou o leito do rio, comprometendo o ecossistema e a saúde pública local.
Além disso, o desastre em Rio Verde também expôs as deficiências na fiscalização e no licenciamento ambiental, uma vez que a barragem não apresentava as condições de segurança necessárias e não houve uma resposta eficiente por parte das autoridades.
Esse caso em Rio Verde foi uma das primeiras grandes tragédias no setor mineral a alertar para a necessidade urgente de uma reforma na legislação de segurança de barragens e uma fiscalização mais rigorosa sobre a atividade mineradora no Brasil. Infelizmente, o cenário de falhas de segurança e falta de responsabilidade das mineradoras continuaria a se repetir em tragédias como Mariana e Brumadinho, demonstrando a fragilidade do modelo de regulamentação do setor.
Miraí (MG), 2006 – Mineradora Rio Pomba Cataguases
Em 2006, o município de Miraí, em Minas Gerais, foi palco de mais um desastre causado pela atividade mineradora. A mineradora Rio Pomba Cataguases sofreu o rompimento de uma de suas barragens, liberando 1,2 milhão de m³ de rejeitos que contaminaram os córregos da região.
A lama tóxica afetou não apenas a água potável das comunidades vizinhas, mas também matou peixes e comprometeu a fauna local, causando um impacto direto na subsistência das famílias que dependiam desses recursos para viver.
Além dos impactos ambientais, o desastre afetou profundamente o abastecimento de água de várias cidades da região. Com a contaminação dos corpos hídricos, mais de 100 mil pessoas ficaram sem acesso à água potável, o que gerou uma crise de saúde pública.
A falta de medidas adequadas para evitar a tragédia e a resposta insuficiente das autoridades regionais e estaduais refletiram a fragilidade da fiscalização e da legislação ambiental, que não conseguiram prevenir ou remediar os danos causados.
A resposta tardia das autoridades e a falta de reparações adequadas para as vítimas e para o ecossistema afetado apenas ampliaram os danos sociais e ambientais. Como resultado, a tragédia de Miraí se soma a outras que seguiram ao longo dos anos, revelando um padrão recorrente de impunidade e ineficácia na prevenção de desastres minerais.
Congonhas (MG), 2008 – CSN (Mina Casa de Pedra)
Em 2008, o município de Congonhas, também em Minas Gerais, foi afetado por um desastre ambiental provocado pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), responsável pela Mina Casa de Pedra.
O rompimento de uma estrutura que ligava o vertedouro à represa da mina provocou um aumento repentino do volume do Rio Maranhão, resultando em uma inundação que desalojou 40 famílias da região.
A tragédia em Congonhas foi desencadeada pela falha na infraestrutura de segurança da barragem, que não suportou o aumento do volume de água. Esse incidente demonstrou a falta de medidas adequadas de prevenção e a fragilidade da gestão de barragens, especialmente em áreas próximas a núcleos urbanos. A água da represa inundou áreas residenciais e comerciais, comprometendo a segurança e a qualidade de vida das famílias afetadas.
Embora a tragédia não tenha gerado vítimas fatais, ela causou grande impacto social e econômico. Além do desalojamento das famílias, a cheia do Rio Maranhão resultou em danos materiais consideráveis e gerou grande insegurança nas comunidades locais.
A ausência de um planejamento de contingência adequado e a falta de transparência nas ações da CSN reforçaram as críticas ao modelo de exploração mineral no Brasil, que frequentemente ignora os riscos de suas atividades para as populações vizinhas.
A tragédia em Congonhas é mais um exemplo das falhas no sistema de fiscalização e de prevenção de desastres no setor minerador, que continuam a gerar prejuízos sociais e ambientais sem as devidas consequências para as empresas responsáveis.
Itabirito (MG), 2014 – Herculano Mineração
Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Em setembro de 2014, a cidade de Itabirito, na Região Central de Minas Gerais, foi cenário de mais uma tragédia provocada pela mineração. O rompimento de uma barragem da Herculano Mineração causou o deslizamento de uma grande quantidade de lama e rejeitos, que soterrou veículos e instalações da própria empresa. Três trabalhadores morreram no local, e o acidente gerou forte comoção pela forma abrupta e violenta com que ocorreu.
Segundo informações da época, a barragem se rompeu durante uma operação de manutenção, o que levanta sérias dúvidas sobre os protocolos de segurança adotados pela empresa. Os rejeitos atingiram áreas próximas ao ribeirão Carrapatos. Além das mortes, o impacto ambiental foi significativo, com a contaminação de cursos d’água e prejuízos ao ecossistema local.
O desastre em Itabirito escancarou mais uma vez a fragilidade das estruturas de contenção de rejeitos e a ausência de fiscalização efetiva. A tragédia ocorreu pouco mais de um ano antes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, e deveria ter servido como alerta para o que viria a seguir.
No entanto, as medidas preventivas continuaram insuficientes, e a atividade mineradora seguiu operando sob um modelo permissivo e negligente.
Assim como em outros casos, os trabalhadores mortos em Itabirito representam a face mais visível do risco contínuo a que estão submetidas as pessoas que vivem e trabalham próximas às barragens de mineração.
Barcarena (PA), 2009 e 2018 – Hydro Alunorte
As tragédias ocorridas em Barcarena, no estado do Pará, representam dois episódios distintos, mas igualmente devastadores, de vazamento de rejeitos de bauxita. O primeiro, em 2009, foi marcado pelo vazamento de grandes volumes de rejeitos tóxicos da Hydro Alunorte, uma das maiores refinarias de alumínio do mundo.
Esse acidente resultou na contaminação de rios e córregos, afetando diretamente a comunidade quilombola de Vila Nova e outras populações ribeirinhas da região. A água potável foi comprometida, o que causou uma crise de saúde pública, com o aumento de doenças relacionadas à contaminação por metais pesados.
Em 2018, mais um vazamento de rejeitos ocorreu em Barcarena, novamente envolvendo a Hydro Alunorte. A mineradora foi acusada de descumprir as normas de segurança, o que resultou em um impacto ainda mais severo.
O novo vazamento afetou mais uma vez os rios da região, com a contaminação de água potável e prejuízos às comunidades tradicionais, em especial os quilombolas e ribeirinhos que dependem diretamente dos recursos naturais para sua sobrevivência.
As duas tragédias expõem a falta de responsabilidade da Hydro Alunorte e a ausência de um sistema de fiscalização eficaz no Brasil. Apesar das graves consequências para as comunidades locais e para o meio ambiente, as respostas da empresa e do governo foram insuficientes e tardias.
Em 2009, a Hydro Alunorte foi multada, mas as reparações feitas não foram suficientes para mitigar os danos provocados. A falta de ações concretas e a falta de regulamentação adequada para garantir a proteção das populações afetadas indicam uma falha estrutural no modelo de mineração adotado no país.
Além dos danos ambientais e sociais, a tragédia de Barcarena é emblemática do racismo ambiental, pois as populações mais afetadas foram aquelas historicamente marginalizadas, como os quilombolas e os ribeirinhos, cujas vozes raramente são ouvidas nas decisões sobre o uso dos recursos naturais e o planejamento de grandes projetos mineradores.
Casos emblemáticos: Mariana e Brumadinho
Mariana (MG), 2015 – Samarco/Vale-BHP
Em novembro de 2015, o Brasil foi abalado pelo maior desastre ambiental da sua história. O rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, uma joint venture entre Vale e BHP Billiton, devastou a cidade de Bento Rodrigues e causou a morte de 19 pessoas.
A tragédia não se limitou à perda de vidas humanas, mas se estendeu ao colapso do Rio Doce, que foi coberto por lama tóxica e rejeitos de mineração, afetando mais de 200 mil pessoas ao longo de centenas de quilômetros, desde Mariana até o Espírito Santo.
A lama tóxica que se espalhou pelo leito do rio continha metais pesados e produtos químicos altamente nocivos, comprometendo a saúde das comunidades ribeirinhas e colocando em risco o abastecimento de água para milhões de pessoas.
Em meio à tragédia, a resposta das autoridades foi lenta e ineficaz, e a responsabilidade das empresas envolvidas permaneceu obscura por muito tempo. Embora a Samarco, a Vale e a BHP Billiton tenham sido responsabilizadas, as medidas tomadas não foram suficientes para mitigar os danos causados, e os processos de reparação se arrastam até hoje, com as vítimas do desastre sofrendo com a falta de suporte adequado.
Nove anos após o desastre, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e diversas organizações não governamentais ainda lutam pela justiça para as vítimas e pela recuperação dos danos ambientais.
A tragédia de Mariana expôs as falhas na gestão de barragens e na fiscalização das atividades mineradoras, e a reação do Estado e das empresas envolvidas mostrou como o lucro é colocado acima da vida humana e da proteção ambiental.
Por isso, ela é um marco na história da mineração no Brasil e devia servir de alerta para os riscos de um setor que continua operando com uma legislação insuficiente e uma fiscalização ineficaz, resultando em mortes, destruição e impunidade. O desastre de Mariana é apenas um capítulo de uma longa sequência de falhas que seguem impactando a vida de milhares de brasileiros.
Brumadinho (MG), 2019 – Vale
Foto: André Penner/AP
Em janeiro de 2019, o Brasil foi novamente palco de um desastre de grandes proporções causado pela mineração. O colapso da barragem da Mina Córrego do Feijão, de responsabilidade da Vale, resultou na morte de 272 pessoas, tornando-se o maior desastre da história da mineração brasileira em termos de perda de vidas humanas.
A tragédia não só ceifou vidas humanas, mas também causou uma destruição ambiental sem precedentes, com resíduos contaminados atingindo o Rio Paraopeba, comprometendo o abastecimento de água de mais de 2 milhões de pessoas e afetando os ecossistemas locais.
Diferentemente de Mariana, onde o desastre aconteceu em um contexto de negligência e deficiências estruturais, o acidente de Brumadinho foi um crime reincidente, contendo a mesma falha de segurança que já havia sido identificada em anos anteriores.
Documentos apontam que a Vale já tinha sido alertada sobre o risco de rompimento da barragem, mas, mesmo assim, continuou a operar com a infraestrutura falha, o que culminou na catástrofe. O colapso da barragem liberou milhões de toneladas de rejeitos de mineração que desceram em alta velocidade pela encosta, atingindo o bairro de Córrego do Feijão, destruindo casas e tudo pela frente.
Um dos aspectos mais alarmantes foi a falta de ativação da sirene de alerta, que deveria ter avisado a população sobre o rompimento. o. A falha na comunicação, além das deficiências estruturais da barragem, agravou a tragédia, e muitas pessoas não tiveram tempo de escapar. Vale lembrar que investigações apontam que o refeitório dos funcionários da empresa foi construído logo embaixo da barragem e que já sabia-se que as “rotas de fuga” não seriam viáveis em um possível rompimento.
O impacto ambiental também foi significativo, com a contaminação do Rio Paraopeba e de outros corpos d’água. O mercúrio, usado nas atividades de extração mineral, foi liberado no ambiente, contaminando o solo e a água. A recuperação dos ecossistemas afetados ainda é uma tarefa longa e complexa, e as consequências para a biodiversidade local são irreversíveis.
Essa tragédia também afetou diretamente o modo de vida de muitas famílias, principalmente aquelas que dependiam da pesca e da agricultura, que sofreram com a contaminação das águas e o abandono das terras.
O desastre de Brumadinho expôs as deficiências estruturais da mineradora e das autoridades responsáveis pela fiscalização. A empresa, que já tinha sido responsabilizada por outros desastres anteriores, continuou a operar sem a devida responsabilização, com falta de transparência e ações efetivas para evitar novos acidentes.
Em 2025, seis anos após o rompimento da barragem, os processos judiciais continuam, e a reparação dos danos ainda é tema de debate. O fato de que a catástrofe foi cometida pela mesma empresa, sem que houvesse uma mudança significativa nas práticas de segurança e responsabilização, reflete a impunidade do setor minerador e a falência das políticas públicas de fiscalização no Brasil.
Impactos sociais e ambientais das tragédias
Deslocamento forçado, perda de terras e identidade cultural
As tragédias causadas pela mineração no Brasil não se limitam aos danos ambientais e às perdas humanas. Elas têm impactos sérios e de longo prazo sobre as comunidades afetadas, que frequentemente enfrentam o deslocamento forçado, a perda de terras e a mudanças significativas nas suas tradições culturais.
Esses efeitos são muitas vezes negligenciados no debate público, mas são tão devastadores quanto os danos ecológicos, pois afetam o modo de vida e a própria sobrevivência das populações que dependem diretamente da terra e dos recursos naturais.
O deslocamento forçado é uma das consequências mais comuns das tragédias minerárias, como se viu em Mariana e Brumadinho. Após os rompimentos de barragens, milhares de pessoas foram desalojadas de suas casas e comunidades, muitas vezes sem qualquer plano de reassentamento adequado ou compensação justa.
Para as comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas, o deslocamento não é apenas físico, mas cultural e emocional. Essas populações têm uma relação ancestral com a terra, e a perda desse território implica em uma ruptura significativa de sua identidade, história e conexão com o meio ambiente.
Além disso, a destruição ambiental imposta pelas atividades mineradoras compromete a segurança alimentar dessas comunidades.
Esses impactos, que envolvem o deslocamento forçado, a perda de terras e a destruição cultural, são frequentemente ignorados ou minimizados pelas autoridades e pelas próprias empresas mineradoras.
No entanto, a recuperação social e a reconstrução da identidade cultural das comunidades afetadas são processos longos e difíceis, que exigem compensação justa e a garantia de direitos. As tragédias da mineração, portanto, não podem ser tratadas apenas como eventos isolados; elas fazem parte de um modelo de exploração que viola de forma sistemática os direitos humanos e ambientais das populações mais vulneráveis.
Crises de saúde pública, aumento de doenças e insegurança alimentar
O rompimento de barragens e o vazamento de rejeitos de mineração contaminam os rios, os solos e os alimentos consumidos pelas populações locais, desencadeando uma série de crises de saúde pública. De doenças respiratórias a problemas gastrointestinais e infecciosos, as comunidades ribeirinhas e indígenas estão expostas a uma maior incidência de doenças, que muitas vezes não são tratadas ou diagnosticadas adequadamente.
O aumento das doenças respiratórias e da pele ocorre principalmente devido à poluição do ar com partículas de poeira e metais pesados, enquanto a contaminação das águas com mercúrio e outros produtos químicos também está relacionada ao aumento de doenças gastrointestinais e envenenamento por metais pesados.
A falta de um sistema de saúde eficiente e a dificuldade de acesso aos cuidados médicos agravam ainda mais a situação, principalmente em regiões remotas, como as afetadas por tragédias como Mariana e Brumadinho. Muitas dessas comunidades convivem com o medo constante da contaminação da água e da impossibilidade de consumir produtos de suas terras e rios, o que também afeta a qualidade de vida e a saúde mental da população.
Com a contaminação dos rios e dos solos, esses meios de subsistência são comprometidos, levando a um aumento da fome e da desnutrição. A destruição de ecossistemas e a morte de peixes e plantas dificultam a produção de alimentos e geram uma dependência crescente de alimentos industrializados, que são frequentemente inacessíveis ou de baixo valor nutricional para essas populações.
A falta de políticas públicas efetivas para mitigar os impactos da mineração na saúde e segurança alimentar resulta em um ciclo vicioso de vulnerabilidade e exclusão social, que afeta principalmente as populações mais pobres e marginalizadas. A ausência de assistência médica e programas de segurança alimentar agrava as condições de vida e aumenta a dependência dessas comunidades de ajuda externa.
Impunidade e conivência institucional
A impunidade é uma marca recorrente nas tragédias envolvendo a mineração no Brasil. Apesar da gravidade dos desastres, das vidas perdidas e dos danos ambientais e sociais causados, as empresas responsáveis raramente enfrentam consequências proporcionais à magnitude dos crimes cometidos. Em muitos casos, a responsabilização é simbólica, e os processos judiciais se arrastam por anos sem resultar em punições efetivas.
O caso de Mariana, por exemplo, é emblemático. Nove anos após o rompimento da barragem de Fundão, nenhum dos executivos da Samarco, Vale ou BHP Billiton foi condenado. O processo criminal relacionado ao desastre foi paralisado e, posteriormente, anulado por falhas processuais.
Enquanto isso, as vítimas ainda aguardam reparações integrais, e os danos ambientais ao Rio Doce e às comunidades atingidas seguem sem solução definitiva. A lentidão da Justiça e a atuação limitada das autoridades públicas demonstram a fragilidade do sistema jurídico diante do poder econômico das mineradoras.
Essa situação não é exclusiva de Mariana. Em diversos outros desastres, como o de Brumadinho, Barcarena e Itabirito, observa-se o mesmo padrão: promessas de reparação, acordos extrajudiciais que favorecem as empresas e a ausência de condenações penais. A repetição dos crimes e a falta de punição criam um ambiente de conivência institucional, em que a violação de direitos humanos e a destruição ambiental passam a ser tratadas como riscos operacionais aceitáveis dentro do modelo de mineração vigente.
A impunidade não é acidental – ela é parte integrante de um sistema que prioriza o lucro em detrimento da vida. Enquanto não houver mudanças estruturais na forma como o Estado brasileiro regula e fiscaliza a mineração, novos desastres seguirão acontecendo, e os responsáveis continuarão livres de qualquer responsabilização efetiva.
Diversos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional propõem alterar significativamente as regras que regulam a atividade mineradora no Brasil, ameaçando retrocessos importantes nas áreas de licenciamento ambiental, participação social e destinação dos royalties da mineração (CFEM).
Um dos projetos mais preocupantes visa centralizar as decisões sobre a aplicação da CFEM nas prefeituras, retirando da sociedade civil e dos conselhos municipais o poder de deliberar sobre o uso dos recursos.
Isso representa um risco direto de desvio de finalidade e uso indevido dos royalties, que deveriam ser destinados prioritariamente a ações de recuperação ambiental, infraestrutura e melhoria da qualidade de vida nas regiões afetadas pela mineração.
Além disso, outras propostas legislativas visam reduzir exigências de consulta pública, diminuir a abrangência dos estudos de impacto ambiental e agilizar o licenciamento de grandes empreendimentos, inclusive em áreas protegidas e terras indígenas. Essas medidas atendem aos interesses do setor mineral, mas colocam em risco ecossistemas sensíveis, comunidades tradicionais e populações vulneráveis.
Esses projetos são reflexo da força política das mineradoras e da ausência de um compromisso efetivo do Estado com a proteção socioambiental. Em vez de avançar rumo a uma regulação mais rigorosa, o que se vê é um movimento coordenado para tornar o setor ainda mais permissivo.
Caso aprovadas, essas medidas podem consolidar um cenário de retrocesso que compromete não apenas o meio ambiente, mas também os direitos das populações atingidas e o futuro das próximas gerações.
O histórico de tragédias provocadas pela mineração no Brasil revela um padrão de violação sistemática de direitos humanos, destruição ambiental e impunidade corporativa. A repetição dos desastres, a falta de responsabilização das empresas e a conivência institucional consolidam um modelo minerário baseado no lucro, na exploração e na desproteção dos territórios e das pessoas. Não se trata de acidentes isolados, mas de uma engrenagem estrutural que prioriza interesses econômicos em detrimento da vida e da sustentabilidade.
Mesmo após Mariana e Brumadinho, as mudanças implementadas foram pontuais e insuficientes. A legislação segue frágil, os órgãos de fiscalização continuam precarizados e os riscos seguem altos.
É fundamental reconhecer que não haverá justiça ambiental sem enfrentamento das causas estruturais das tragédias da mineração. Isso exige a revisão do atual modelo extrativista, a valorização dos direitos das populações atingidas, o fortalecimento da participação social e o compromisso com formas de desenvolvimento que respeitem os limites do planeta e a dignidade humana.
Um histórico que não pode ser esquecido
Revisão cronológica das principais tragédias minerárias no Brasil
- 1750-1808: São João del Rei (MG) – Colapso em mina de ouro, resultando na morte de 211 pessoas, sendo 200 escravizados e 11 feitores. Este é considerado o desastre minerário de maiores proporções registrado no Brasil no século XVIII, evidenciando as condições de trabalho desumanas da época e o uso de mão de obra escrava nas minas.
- 2001: Mineradora Rio Verde, em Rio Acima (MG) – Rompimento de barragem.
- 2006: Mineradora Rio Pomba Cataguases, na cidade de Miraí (MG) – Vazamento de 1,2 milhão de m³ de rejeitos contaminando córregos e interrompendo o fornecimento de água.
- 2007: Mineradora Rio Pomba Cataguases, novamente em Miraí (MG) – Novo vazamento, desta vez de 2,2 milhões de m³, afetando Miraí e Muriaé e desalojando mais de 4 mil pessoas.
- 2008: Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Congonhas (MG) – Rompimento da estrutura que ligava o vertedouro à represa da Mina Casa de Pedra, elevando o volume do Rio Maranhão e desalojando 40 famílias..
- 2014: Herculano Mineração, em Itabirito (MG) – Rompimento de barragem com três trabalhadores mortos e contaminação do ribeirão Carrapatos.
- 2015: Samarco/Vale-BHP, em Mariana (MG) – Rompimento da barragem de Fundão, com 19 mortos, destruição do distrito de Bento Rodrigues e colapso do Rio Doce.
- 2018: Hydro Alunorte, em Barcarena (PA) – Vazamento de rejeitos de bauxita, com contaminação da água e impactos a comunidades quilombolas e ribeirinhas. Caso semelhante já havia ocorrido em 2009.
- 2019: Vale, em Brumadinho (MG) – Rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, com 272 mortes e contaminação do Rio Paraopeba. Maior tragédia da mineração brasileira em número de vítimas fatais.
É urgente que o Brasil tome ações concretas para reverter este cenário de impunidade e destruição. A primeira medida imprescindível é a reforma da legislação mineral, que deve ser atualizada para atender às exigências ambientais e sociais do século XXI. O Código de Mineração, datado de 1967, já não é capaz de garantir a proteção ambiental ou os direitos dos povos afetados. As mudanças propostas no Congresso, que buscam flexibilizar as normas e enfraquecer a fiscalização, representam um retrocesso perigoso que coloca interesses econômicos acima da vida humana e da sustentabilidade.
As tragédias que marcam nossa história não podem ser esquecidas ou ignoradas, elas devem ser o ponto de partida para uma transformação real na forma como o país lida com seus recursos naturais. A busca por justiça para as vítimas e pela reparação dos danos ambientais deve ser uma prioridade, e a sociedade civil, o poder público e as empresas devem se unir para garantir que o Brasil siga, finalmente, um caminho de desenvolvimento responsável e ético.
O Manifesto “Justiça por Brumadinho” é uma iniciativa que busca garantir justiça para as vítimas do desastre e responsabilizar as empresas responsáveis por essa tragédia-crime. É um chamado à sociedade para que se mobilize em defesa dos direitos das vítimas, pela reparação dos danos e pelo fim da impunidade das empresas mineradoras. A luta pela reparação ambiental e social deve ser contínua, e a responsabilização das empresas deve ser a prioridade.
Convidamos você a se juntar a essa causa, apoiando o Manifesto “Justiça por Brumadinho”. Participe das mobilizações, compartilhe a mensagem e ajude a pressionar por uma mudança real no modelo de mineração no Brasil. A luta por justiça não é só por Brumadinho, mas por todas as comunidades afetadas pela mineração predatória e por um futuro onde as vidas humanas e a natureza sejam respeitadas acima dos lucros.